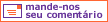COBERTURA DA GUERRA
"Propaganda, repressão e estereótipos", copyright Jornal do Brasil, 13/10/01
"Todas as guerras se parecem. Mudam os tempos, mapas, armas, motivações mas não mudam os dois objetivos fundamentais dos conflitos militares – a conquista das almas e territ&ooacute;rios. Primeiro aquelas, depois estes. Quanto mais adeptos, mais rápida a vitória.
A propaganda como arma bélica não foi inventada por Goebbels, ele apenas levou-a para o âmbito das ondas hertzianas transferindo os ressentimentos e a motivação guerreira da rua e praças para dentro das casas.
Junto com armamentos, caciques e comandantes sempre deram muita atenção aos estímulos psicológicos: tambores, clarins, flâmulas, cores, uniformes, danças, hinos, proclamações, boatos, promessas e prêmios – tudo conta para armar os espíritos e prepará-los para o combate. Dentro das armaduras, os chefes querem ânimos fortes, à prova de dúvidas.
A guerra é uma vontade de guerrear, o resto vem em seguida. Esta não poderia ser diferente: começou através do terror que só surte efeito se devidamente magnificado. E prossegue numa série de lances num campo de batalha chamado mídia – afinal esta é a Era da Informação.
Não é casual a ocorrência de três casos de antraz numa empresa de comunicação na Flórida. O bacillus anthracis apareceu no teclado de um computador, depois no serviço de correspondência interna. O bicho foi despachado para propagar-se, aninhar-se nos pulmões e espíritos. Intimidar.
O furioso ataque dos talibãs paquistaneses contra o comboio de jornalistas estrangeiros perto da fronteira com o Afeganistão foi seguido horas depois por um estúpido apelo da Casa Branca para que as redes americanas de TV não transmitam discursos dos chefes terroristas. Não contente com a exibição pueril e paranóica, o governo americano estendeu o pedido aos jornais: a retórica poderia esconder mensagens cifradas dirigidas à rede mundial de terroristas. A ameaça de executar o repórter da Paris Match que entrou no Afeganistão sem autorização dos talibãs não é brincadeira: a colega inglesa que o precedeu só foi libertada porque ameaçou iniciar uma greve de fome.
Em plena recessão econômica o marketing vive seu momento de glória. Palavras viraram projéteis, imagens, dinamite. Idéias, ao invés de iluminar, são agora letais. A batalha, em si, tornou-se secundária, dominada pela exibição de símbolos, signos, totens. O que seria real ficou dúbio.
Em grego, guerra é polemos. Não se trata de curiosidade etimológica: da matriz latina tiramos as variações de bellus – bélico, belicosidade, beligerância. Mas do berço da civilização (que os árabes redescobriram através de al Farabi e Avicena) a última flor do Lácio tirou polemos para juntá-la à polêmica. Guerra é a controvérsia levada à exaltação. Discórdia insana, confronto de teimosias e dogmas.
Estereótipos. A despeito da pletora de interpretações e teorias, não obstante a massa de informações, estamos nos antípodas do conhecimento. O conflito no Oriente Médio que Osama bin Laden só recentemente incorporou ao seu discurso é um dos maiores repositórios de simplificações, clichês e inverdades dos últimos séculos.
A começar pelo estigma de insolúvel. Anwar Sadat mostrou que era possível a um país árabe reconhecer a existência de Israel e o fato de ter sido assassinado por um fanático religioso até agora não conseguiu reverter a sua ousadia. Yasser Arafat e Yitzhak Rabin (este também assassinado por um fanático religioso) mostraram uma década depois que, apesar da sangueira, era possível dialogar, confiar e desenhar um acordo progressivo.
Não foram as únicas aproximações. Poucos dias antes da decisão da ONU de partilhar a Palestina em dois estados (início de novembro de 1947) e poucos dias antes da Proclamação do Estado de Israel (maio de 1948), Golda Meir (mais tarde primeira-ministra) encontrou-se secretamente com o rei Abdulah da então Transjordânia (bisavô do rei homônimo da atual Jordânia). O rei (cujos irmão Faisal ajudou o major Lawrence a expulsar os turcos da Arábia) não queria um estado árabe, não queria aliar-se aos quatro países que invadiriam a Palestina mas queria que os judeus lá estabelecidos adiassem a proclamação do Estado. Acabou compelido a entrar na guerra, aliás o único que conseguiu uma vitória sobre os israelenses no primeiro conflito (a conquista de uma parte de Jerusalém).
Abdulah abocanhou a margem ocidental do Jordão que seria o coração do estado palestino, mudou o nome do país e foi assassinado dois anos depois por um agente do Mufti de Jerusalém, Haj Amin el-Husseini, que durante a Segunda Guerra Mundial trabalhou para os nazistas na ocupação da Bósnia. Os dois encontros entre a judia russa e o altivo beduíno naqueles dias terríveis e decisivos estão descritos nas memórias de Golda Meir (Minha vida, Bloch Editores, 1976, páginas 163-169).
Se Abdulah tivesse resistido à pressão da Liga Árabe e não aderisse à invasão da Palestina quando os britânicos abandonaram o território, a história daquele pedaço de mundo e talvez do próprio mundo seria diferente.
Um ano atrás outro encontro secreto, fraterno, tão perturbador quanto os anteriores, poderia ter evitado a segunda Intifada e a violenta repressão militar israelense para abafá-la. Poucos dias antes de 28 de setembro do ano passado, Ariel Sharon decidiu ir ao Monte do Templo em Jerusalém onde está o santuário islâmico Haram al-Sharif ??para testar a liberdade de acesso e de culto?? prevista no acordo de Camp David. Alertado para o perigo do ato, Yasser Arafat foi à residência particular do então primeiro-ministro Ehud Barak e durante um jantar íntimo tentou persuadi-lo a evitar a provocação.
O soldado mais condecorado de Israel, físico, talentoso pianista mas desastrado político, Barak estava apenas preocupado com as pesquisas eleitorais: queria ver Sharon como candidato da direita em vez de Bibi Netanyahu bem colocado nas prévias. Não deu ouvidos a Arafat. Sharon ganhou a eleição e o resultado aí está (o episódio foi narrado com detalhes por um dos mais importantes e independentes jornalistas israelenses, Amos Elon, no New York Review of Books, 18/10/2000).
Depois de 54 anos, cinco guerras, duas intifadas, milhares de mortos e, sobretudo, depois de quatro infrutíferos prêmios Nobel da Paz, essas aproximações parecem inventadas. Francas e humanas, não obstante, tétricas. Como nas tragédias, onde nobres sentimentos não conseguem sobrepor-se à dinâmica das fúrias.
Uma guerra não acaba com frios apertos de mão de interlocutores que mal se olham. Antes é preciso calar preconceitos e estereótipos. A questão da Palestina é a grande vítima da propaganda."
"Azeitona na esfiha", copyright O Globo, 14/10/01
"Vamos combinar uma coisa. A sugestão americana de que mensagens cifradas poderiam estar sendo plantadas por Osama bin Laden e seus asseclas em pronunciamentos transmitidos pela rede de TV al-Jazeera é ridícula. A organização do terrorista saudita não precisou de sequer um segundo de discurso ao vivo na CNN para deslanchar os atentados da manhã de 11 de setembro. É preciso dar o nome certo à recomendação da Casa Branca para que os jornais e telejornais dos EUA e, por extensão, do Ocidente doravante analisem cuidadosamente o material a ser levado ao ar: propaganda de guerra. Isso posto, vamos combinar outra coisa: trata-se de um recurso legítimo. Legítimo e, num mundo interligado pelas telecomunicações, quase tão decisivo para a vitória quanto a precisão dos mísseis ou a destreza das tropas especiais.
Até que ponto as restrições ou auto-restrições daí advindas podem conviver com o preceito da liberdade de imprensa, assegurado já na Primeira Emenda da Constituição americana, é uma outra questão, uma boa questão, aliás. Talvez ajude assumirmos, nós jornalistas, que o que oferecemos aos leitores, ouvintes e telespectadores não é, e jamais teria como ser, ?a vida como ela é?. Fazemos diariamente, na paz e na guerra, um recorte da vasta realidade lá fora. Escolhemos publicar ou não publicar uma reportagem em função de sua relevância pública, utilidade social, pertinência política, interesse nacional, valor estético. Isso é feito de acordo com nossas razões, sensibilidades e, sobretudo, responsabilidades para com os consumidores do produto.
Por isso, devemos supor que quando Bin Laden vai para a frente das câmaras se regozijar pela própria barbárie, afirmar que foi ?Deus? quem explodiu o World Trade Center (num sintoma de gravíssima megalomania) e ameaçar os EUA e seus aliados com novos massacres, centenas de milhões de pessoas pelo mundo se sintam não apenas ofendidas como amedrontadas. Faz parte da responsabilidade social do jornalista não abater o moral nem disseminar o pânico entre seus concidadãos. Nesse sentido, a ética profissional tem complexa escolha entre não omitir do público uma informação que no final das contas pode de fato lhe custar a vida e fazer o jogo do inimigo desse mesmo público. Exposto de uma forma mais coloquial: deve-se botar azeitona na esfiha do terrorismo? A máquina de (contra)propaganda de guerra tem certeza que a resposta é negativa. Sua lógica é a do ?o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde?.
Como colocar tudo isso em perspectiva? Uma das formas mais eficientes é olhar para trás, para a História. Vamos, antes, combinar uma terceira coisa: EUA e Grã-Bretanha são dois dos melhores exemplos daquilo que o primeiro-ministro Winston Churchill chamava de ?o pior sistema político, com exceção de todos os outros?, a democracia. No limiar e no início da Segunda Guerra Mundial, um conflito no qual o inimigo era tão claro quanto hoje, os britânicos praticaram um delicado jogo de atração dos americanos para a sua causa. O que poderia parecer automático era dificultado, entre outras coisas, pela longa tradição isolacionista dos EUA. O aviador Charles Lindbergh, por exemplo, tinha mais que uma mera queda pela Alemanha e fazia campanha contra a entrada do seu país na guerra.
O Ministério da Informação e os Serviços Britânicos de Informação tinham de operar cautelosamente, nem tão discretos que não lograssem tirar a opinião pública americana da apatia e nem tão exuberantes que se revelassem enquanto propagandistas. Distribuíam pelo mundo fotos (reais) de belas crianças levemente feridas nos bombardeios alemães sobre Londres, mas sonegavam as fotos (também reais) de corpos horrivelmente carbonizados em Coventry. Estas, no entanto, eram repassadas ao outro lado do Atlântico Norte. Assim, quando Pearl Harbour foi atacada pelos japoneses em 7 de dezembro de 1941 (dois anos, três meses e seis dias depois do início da guerra na Europa), o sentimento pró-britânico já havia triunfado sobre o instinto de ?neutralidade?. Nem EUA nem Grã-Bretanha deixaram de ser democracias por causa disso – ou por causa da vitória de Hitler."
"O terror em pauta", copyright Folha de S. Paulo, 14/10/01
"O governo dos Estados Unidos solicitou à mídia, em geral, que não divulgasse os pronunciamentos do Osama bin Laden e dos demais chefes do Taleban. Foi invocado um pretexto idiota: o da mensagem codificada.
Se os terroristas precisam disso para suas ações, devem estar num estágio bastante artesanal. E o atentado ao WTC provou que eles estão alguns furos acima dessa precariedade de informação.
Mas o real motivo não deve ser esse. E é bem mais sério.
O principal objetivo dos terroristas, de qualquer forma de terrorismo, é a propaganda, a mensagem, cujo preço inclui os suicidas dispostos a morrer pela causa.
Na medida em que as vítimas do terrorismo, no caso os Estados Unidos em particular e a civilização ocidental no geral, criam uma tribuna livre e gratuita para os terroristas, estão fazendo o jogo dos adversários.
Já lembrei, dias atrás, a polêmica aberta na imprensa brasileira sobre o sequestro da filha do Silvio Santos. Alguns veículos da mídia se recusaram a serem ?pautados pelos sequestradores?, que pediam silêncio sobre as negociações e detalhes do resgate.
No caso dos terroristas, o interesse deles é justamente o oposto aos dos sequestradores: eles desejam a maior divulgação do atentado e das ameaças de novos atentados.
Quando Hitler foi preso, após o putsch da cervejaria de Munique, o governo alemão da época preferiu soltá-lo (após sete meses de cadeia) a dar ao líder nazista o palanque de um tribunal. Não adiantou muito. Hitler levaria mais seis anos para chegar ao poder. Mas, se enfrentasse o tribunal naquela ocasião, certamente teria chegado ao poder mais cedo.
Pergunta que deixo para os entendidos: ao divulgar os pronunciamentos de Osama bin Laden, a mídia mundial está sendo pautada pelos terroristas?"