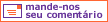COBERTURA DA GUERRA
"?Prisioneira do Taleban", copyright Folha de S. Paulo, 14/10/01
"Não é todo dia que o carcereiro passa por sua cela na prisão gritando: ?Tony Blair está louco da vida a respeito da mulher jornalista?. Mas os últimos dez dias, depois que cruzei a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, foram longe de normais.
Como a maior parte do mundo sabe, inclusive minha filha Daisy, 9, era eu a ?mulher jornalista? detida pelo Taleban por ter entrado no Afeganistão sem visto.
Hoje, antecipo com felicidade que Daisy vai ficar zangada comigo porque não sabia que mamãe tinha ido ao Paquistão. Mas, acima de tudo, vou contar a ela sobre o meu orgulho por ter ordenado ao Taleban que me libertasse para seu aniversário, semana passada.
No aniversário de Daisy, eu estava muito, muito triste. Dois dias antes, eles começaram a me interrogar sobre ela, pois eu não havia dito que tinha uma filha, pensando que isso pudesse causar problemas. Contei que era solteira, o que é fato, mas o conceito de divórcio não cai bem com o Taleban. Mães solteiras são tabu.
Ao contrário das informações divulgadas no Paquistão de que eu estaria ?exigindo cinco refeições ao dia?, posso dizer que comi a primeira refeição completa desde que me prenderam.
Eu havia estado em greve de fome desde a captura, porque me foi negado acesso ao telefone.
Admiti ter entrado no país sem visto, mas eles acharam que eu estava espionando. Eu era provavelmente o prisioneiro mais difícil que tinham. E minha atitude não foi um tolo golpe de relações públicas. Eu queria descobrir o que os afegãos realmente estavam pensando sobre a situação.
Escrevi um diário secreto, usando o lado de dentro de uma caixa de pasta de dentes e o lado de dentro de uma embalagem de sabonete. Mantiveram-me segregada dos demais prisioneiros.
Perguntavam-me por que eu fora ao Afeganistão. Cansei e disse: ?Eu queria aderir ao Taleban!?
Quando os ataques noturnos a Cabul começaram, eu estava deitada, e era como fogos de artifício sendo disparados. Na minha cela havia armas guardadas, e os homens entraram para tirá-las de lá. Havia um lança-granadas debaixo da minha cama.
Houve uma explosão a cerca de 1,5 km, provavelmente. Pude ver tudo com clareza. Meu maior medo era que pessoas que sabiam que eu estava na prisão de Cabul viessem causar tumulto, mas isso não aconteceu.
Houve um momento engraçado, quando eu estava sendo interrogada e eles me perguntavam sem parar por que eu fora ao Afeganistão. Tentei explicar de um ponto de vista jornalístico o que me motivara a ir. Depois de responder à mesma pergunta pela décima vez, desisti, ergui os braços e disse: ?Porque eu queria aderir ao Taleban!?. Todos começaram a rir, quebrando a tensão.
Só me deprimi no aniversário de Daisy. No resto do tempo, estava furiosa. A única maneira pela qual eu poderia exercer qualquer direito era não comendo, e isso realmente os incomodava, o que me encorajou. Mas eles não me davam acesso a um advogado, e não creio que tivessem acusações, porque todos estão tentando fugir do Afeganistão, e ninguém está tentando entrar.
O pior momento foi quando saí do quartel do serviço de inteligência em Jalalabad e disseram: ?Você vai a Cabul, será colocada em um avião e mandada para casa?. Quando saí, cerca de 40 a 50 homens do Taleban formaram um corredor humano, como marca de respeito, pelo qual passei.
Entrei em um carro e fui levada a Cabul, e havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto porque pensei: ?Estou mesmo voltando para casa, esse é o fim?. Mas, quando me levaram para uma prisão, que evidentemente não é nada parecida com o aeroporto de Cabul, colocaram-me com seis outras mulheres em uma cela que não chegava a 20 m2.
Presentearam-me com uma veste tradicional afegã e um dos líderes me disse: ?Ridley, você é um homem?
Eram trabalhadoras de organizações humanitárias cristãs. Elas haviam chegado ao país dois meses antes e exibiam tremenda força interior.
O Taleban havia limpado a cela e garantido a higiene. Antes, havia baratas, escorpiões e ratos por lá. Mas eu continuava esquálida.
Fui removida da cela e levada para cima depois de duas ou três noites. Estava no chão, em um colchão espesso. Não havia chuveiro ou banheira, ainda que, no lugar onde havia sido detida em Jalalabad, houvesse uma espécie de privada, com descarga.
Na primeira noite, senti-me terrivelmente, horrivelmente traída, porque eu confiara nessas pessoas quando me disseram que iria de avião para casa. Fiquei furiosa, não confiava em ninguém.
Numa manhã, eles disseram que viriam me apanhar às 6h, e às 8h perguntei onde estava o carro para me levar a Islamabad. Disseram que estava um pouco atrasado. Respondi: ?Vocês vão mentir mais??. Fechei e tranquei minha porta. Quando o carro chegou, mandei-os embora porque não acreditava no que me diziam.
Um policial estava esmurrando a porta dizendo: ?É verdade, o carro está aqui?, e eu dizia que não acreditava neles.
Eles finalmente me persuadiram de que havia um carro lá fora. Presentearam-me com uma veste tradicional afegã, bordada, e um dos líderes me disse: ?Ridley, você é um homem?. Sabia que, vindo dele, aquilo era um cumprimento.
Eu não confiava em ninguém e não estava cooperando. Quando as pessoas eram gentis comigo, eu as tratava com frieza. Depois que disseram que eu estava indo para casa e que isso me foi tirado, eu não confiava em ninguém.
O problema com os afegãos é que eles são tão gentis que detestam dar más notícias, de modo que não lhe contam as coisas.
Jamais fui ferida fisicamente, de nenhuma maneira. Tentaram quebrar minha resistência mental repetindo as mesmas perguntas, dia após dia, vezes sem conta, até às 21h, em certas ocasiões. Perguntavam: ?Quem a ajudou??. E continuavam insistindo em que eu era hóspede deles. Fui separada das trabalhadoras assistenciais por ordem do Ministério do Exterior, que, por algum motivo, acreditava que eu ainda estivesse em Jalalabad.
Quando descobriram que eu estava com as trabalhadoras das organizações assistenciais, mandaram que eu fosse tirada de lá. O mulá Mohammad Omar, líder do Taleban, assinou minha ordem de libertação e ela foi enviada por fax de Candahar.
Mas compreendo que isso só aconteceu devido a negociações duras entre o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, e o Taleban. Depois do comentário do carcereiro sobre Tony Blair, fiquei atônita com o envolvimento do primeiro-ministro, mas não se pode acreditar em tudo o que se ouve na prisão. Havia muitos boatos. Não conversei com ninguém, não recebi mensagens, não tive nenhum contato com o mundo externo.
Em Jalalabad, havia muitos mosquitos. Eles tiveram de chamar um médico porque eu estava coberta de picadas e com febre. Ele me deu alguns tabletes antiinflamatórios, antibióticos e algo mais, não sei o que era, e disse que eu morreria se não comesse.
A greve de fome era a única arma que eu tinha. Era a única coisa que eu podia fazer sem ser impedida. Quando entrei na cela que abrigava as trabalhadoras das organizações humanitárias, contei-lhes que estava em greve de fome, e elas disseram ter feito o mesmo.
Uma delas não comia havia 20 dias, e eu disse: ?Nesse caso, vou fazer um protesto de sujeira e não vou me lavar?. Elas responderam que era melhor que eu não o fizesse, porque uma delas já escolhera essa forma de protesto, e não haveria como aguentar duas de nós. Por isso simplesmente mantive a greve de fome.
Não compreendi que estava livre até me sentar diante de um funcionário paquistanês e tomar chá, porque, quando chegamos à fronteira, pareceu demorar uma eternidade para que os portões fossem abertos, e eu fiquei imaginando se aquilo era apenas mais um truque cruel.
Eu ainda não me adaptei completamente à idéia de que estou livre e tenho muito mais medo daquilo que minha mãe possa me dizer do que de qualquer coisa que o Taleban pudesse fazer comigo. Eu lhes disso isso, aliás. Um dia, fui deixada sozinha em meu quarto o tempo todo, excetuadas as visitas de pessoas que me deixavam comida, que eu não tocava. Um deles disse: ?Você vai para a prisão de Cabul, sabia??.
Realmente me desesperei, porque a imaginação é sempre muito pior do que a realidade. Pensei que fosse desaparecer. Fiquei muito, muito assustada.
Minha captura pelo Taleban
A multidão me cercou, e percebi que o jogo acabara. Não disse uma palavra. Fiquei atônita e me senti completamente enjoada, com medo, por estar, ao mesmo tempo, tão longe e tão perto.
Eu trabalhara clandestinamente em minhas reportagens no Afeganistão por dois dias, chegando à cidade de Jalalabad, e estava voltando, a caminho da segurança.
Tentei cruzar a fronteira de volta para o Paquistão na cidade de Torkham, mas estava fechada. O único outro caminho era uma das numerosas rotas usadas pelos refugiados. Um carro nos levou pelo terreno horrível, e depois tivemos de caminhar três quilômetros, porque a estrada se tornava intransitável para veículos.
Montei num jumento e estava a apenas 20 minutos da fronteira. Continuava usando minha burga. Embora a tivesse levantado um pouco, meu rosto estava coberto.
Consegui fotos da área, mostrando um punhado de refugiados e integrantes de tribos que vivem entre os dois países e não vêem necessidade de controle de fronteira.
Eu estava montada no jumento quando ele pulou para frente sem aviso, e pensei que iria disparar. Gritei -a primeira palavra que eu pronunciara em público.
Isso atraiu a atenção para mim. Tentei segurar as rédeas, e a câmera escondida sob minha burga escapou, à vista de todos.
Exatamente naquele momento, um membro do Taleban percebeu a câmera e começou a gritar comigo -fotografias são proibidas segundo a versão deles da lei islâmica, porque acreditam que o Alcorão proíbe a reprodução da imagem humana.
Ele me arrastou do jumento e uma multidão se formou. Depois de algum tumulto, colocaram-me em um carro com outras pessoas e fomos embora. A situação era uma loucura. Eles achavam ter capturado uma espiã dos EUA. Diziam: ?Amreca! Amreca!?.
Eu não sabia para onde estávamos indo. O terreno era traiçoeiro, e conseguimos descer por uma precária rota de montanha.
O carro parava em vários lugares, e eles gritavam o que devia ser ?apanhamos uma espiã?.
Então surgiu um caminhão carregado de pessoas agitadas, que disparavam armas e gritavam ?Omar!? e ?Osama zinderbad!? (longa vida a Osama bin Laden).
O passageiro da frente no carro estava agitando uma bandeira e todos gritavam. Eu disse que era britânica, não ?Amreca?, mas nenhum deles entendia inglês. Paravam em todos os pontos para deixar que o povo me visse. Eu me sentia como um troféu.
Uma longa procissão de carros se formou atrás de nós e, quando chegamos a Jalalabad, éramos um comboio, buzinando, agitando bandeiras e disparando Kalashnikovs para o alto, com grande animação. Fui levada para o que agora sei ser o quartel-general do serviço de inteligência, onde eles mostraram muita dificuldade em aceitar a idéia de jornalismo investigativo e sugeriram que eu era membro das forças especiais.
Disseram acreditar que eu fosse agente secreta norte-americana. Repliquei: ?Se eu sou agente secreta norte-americana, Deus ajude os Estados Unidos?.
Eu não tinha dinheiro, identificação, posses, nada. Fiz declarações admitindo prontamente que entrara ilegalmente no país deles, sem passaporte ou visto.
Sabia os riscos que corria, e as consequências de uma captura eram terríveis demais para que eu as contemplasse.
Passei minhas últimas horas em um quarto de hotel no Paquistão deliberando se escreveria ou não cartas a minha família caso as coisas dessem errado, mas decidi ser positiva e esvaziei a mente de todo pensamento negativo.
Era uma história que precisava ser contada -eu estava preparada para assumir um risco calculado a fim de obter a verdade.
Como mãe de uma criança, não assumi esse risco de maneira insensata. Entrar era fácil porque basta colocar uma burga para se tornar invisível e insignificante.
Quando me perguntaram por que eu usara a burga, respondi que ?isso é uma triste indicação sobre a condição de sua sociedade, mas, quando uma mulher a veste, ninguém mais repara nela?. Disse-lhes que ?cem soldados norte-americanos poderiam invadir o seu país e vocês olhariam para o outro lado, desde que eles usassem burgas?.
Eu perdera os sapatos quando fora capturada, o que os fizera pensar que eles tinham algo de especial ou de secreto.
Nos dias de cativeiro, lembrei-me de algo que meu pai me dissera quando soube que eu estava indo para o Paquistão. Estava ao telefone com minha mãe e ele gritou: ?Diga para ela ser corajosa?.
Foram palavras que estiveram comigo durante todo o caso -era preciso que eu fosse corajosa.
Minha tarefa não era exibicionismo barato. Viajei cerca de cem quilômetros no Afeganistão, de um lado para outro, observando.
Em uma aldeia, eu pude me sentar para conversar com as pessoas. Eu realmente queria saber o que estava acontecendo com as pessoas comuns que ficaram para trás -por que ficaram, o que achavam dos acontecimentos.
Acreditava que fazê-lo fosse muito importante porque nenhum jornalista ocidental tinha acesso a essas pessoas.
Queria publicar minha história e fico feliz por poder fazê-lo. (Tradução de Paulo Migliacci)"
"Nas guerras, jornais oscilaram entre patriotismo e crítica", copyright Folha de S. Paulo, 13/10/01
"A cobertura de guerra feita pela imprensa americana oscilou historicamente entre a inserção voluntária dos jornalistas como membros patrióticos do ?esforço de guerra? e seu papel de críticos ferozes da conduta de suas Forças Armadas.
Governos e militares sempre tentaram impor alguma forma de censura à cobertura independente dos conflitos, e a imprensa lutou -em variados graus- para se adequar à situação. Existem dois obstáculos básicos para cobrir uma guerra: o acesso ao campo de batalha e a capacidade de transmitir a informação, com ou sem censura prévia.
Na Guerra do Vietnã os correspondentes tinham acesso praticamente ilimitado ao campo de batalha graças a helicópteros nos quais podiam embarcar com facilidade.
Na Segunda Guerra Mundial havia censura militar e os correspondentes usavam o mesmo uniforme do Exército dos EUA.
O general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa e presidente americano depois da guerra, afirmou que ?correspondentes têm em uma guerra um trabalho tão essencial quanto o pessoal militar; fundamentalmente, a opinião pública ganha guerras?.
Publicar fotos de soldados americanos mortos era um tabu poucas vezes quebrado. A revista ?Life? publicou em 1943 uma foto de três americanos mortos em uma praia do Pacífico, feitas por George Strock. ?Homens morrem em vão se os vivos se recusam a olhar para eles?, foi a reveladora legenda. Mesmo assim, as fotos não mostram sangue nem corpos dilacerados.
Um eco recente dessa atitude foi a reduzidíssima divulgação de fotos mais chocantes dos atentados em Nova York e contra o Pentágono. Poucas fotos de cadáveres foram publicadas.
Já durante a intervenção americana na Indochina, a mesma ?Life? publicou uma clássica reportagem fotográfica, feita pelo fotógrafo britânico Larry Burrows, da morte de um piloto de helicóptero. Burrows tentou ajudar a tripulação a resgatar um piloto abatido, que morreu.
Um grupo pequeno de jornalistas iniciou uma cobertura crítica da intervenção americana já no começo dos anos 60 -principalmente os americanos David Halberstam e Neil Sheehan e o neozelandês Peter Arnett (o mesmo que depois cobriu a Guerra do Golfo em Bagdá pela CNN).
Sheehan protagonizou depois um dos mais polêmicos episódios da disputa entre o governo e a imprensa, quando uma reportagem dele iniciou a publicação dos chamados Papéis do Pentágono, em 1971. Os documentos mostravam que a visão pessimista dos correspondentes sobre a possibilidade de ganhar a Guerra no Vietnã também era partilhada por membros do governo americana, que, no entanto, insistia em prosseguir a guerra e não divulgava a verdade sobre ela.
O então presidente Richard Nixon tentou bloquear a publicação dos documentos. A Suprema Corte americana deu ganho de causa ao ?The New York Times?, por 6 votos a 3.
Na Guerra do Golfo (1991), dos cerca de 1.600 jornalistas na Arábia Saudita só uma minoria chegou ao campo de batalha. ?Para os 10% de nós que fomos a campo, entretanto, descobrimos que os militares também tinham encontrado maneiras de tornar as condições de trabalho ali mais difíceis. Nós encontrávamos múltiplas camadas de controle?, afirmou John Fialka, que cobriu a guerra pelo ?The Wall Street Journal?. ?Barreiras pareciam surgir automaticamente para borrar a realidade?, disse ele."